
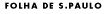

São Paulo, quinta, 23 de abril de 1998
 |
 |
|
Texto Anterior | Próximo Texto | Índice Luta é um fantasma na cabeça de todos
CARLOS HEITOR CONY do Conselho Editorial A terra é árida e pouca. Voltaire a descreveu como enfadonha sucessão de pedras e desertos. Até hoje é mais ou menos assim. Apenas arrumaram grande parte das pedras em forma de casas, edifícios e cidades. E os desertos, pouco a pouco, foram transformados em lavouras, pomares e jardins. O leite e o mel nunca escorreram por lá, nem antes, nem agora. A Terra Prometida a Moisés, em termos de marketing, seria um blefe. Alguns judeus ainda acreditam numa velha piada, que o Senhor havia prometido o Canadá, mas Moisés entendeu Canaã. Esse equívoco explica alguma coisa da história de Israel, inclusive o lado inexplicável da crise do Oriente Médio. Seria intolerável o povo de Deus voltar à história para ser apenas um outro Canadá. Por que os judeus insistem em permanecer naqueles desertos e em cima daquelas pedras, cercados por inimigos ou adversários que desejariam afogá-los no mar? Ao longo dos 2.000 anos de Diáspora, o judeu suspirou pelas pedras e os desertos, cenários de seus patriarcas e profetas. Em cativeiro mais antigo, eles penduravam os alaúdes nos salgueiros e choravam sobre os rios da Babilônia lembrando as alegres tendas de Sião. O retorno dos judeus a Israel, que antecedeu a criação do novo Estado há 50 anos, deve ser compreendido a partir dessa constatação: o lar deles é ali mesmo. Muitos prefeririam Manhattan ou a Escandinávia. De pouco adiantaria: eles continuariam cativos, habitando um gueto de luxo. Visitei Israel diversas vezes, a primeira logo depois da Guerra do Yom Kippur (1973). Já ouvira lendas e cantigas falando dos desertos transformados em jardins. Estavam lá, realmente, à esquerda e à direita da estrada que me levava a Beersheva (sul). Já naquele tempo, Israel conseguira o recorde de maior rendimento por hectare. No setor agrícola, nunca um povo herdara tanta pedra e desolação para, em poucos anos, transformar pedra e desolação numa de suas maiores fontes de renda. Beersheva era uma aldeia perdida no deserto do Neguev, talvez uma pousada de camelos e beduínos. Hoje é uma cidade importante, sede da Universidade Ben Gurion, chamada de "Universidade do Deserto". Não tinha, pelo menos em 74, a imponência de outros centros culturais de Israel, como a Hebraica, de Jerusalém, o Technion, de Haifa, ou o Instituto Weizmann, perto de Tel Aviv. Ela impressionava pela sua concepção revolucionária: não se destinava a ser uma universidade acadêmica, imposta, ponta-de-lança de uma cultura estranha para a região. Fazia justamente o oposto: era a região que condicionava a instituição. A universidade nada ensinava ao deserto. O deserto é que ensinava à universidade. Era necessário aprender a lição das pedras e da areia, sentir a sede do deserto e, depois, domesticá-lo. Um postal muito difundido naquela época mostrava uma rosa vermelha nascendo entre as pedras do Neguev. Não era uma rosa virtual. Era uma rosa de verdade num cenário verdadeiro. O sucesso da implantação do Estado judeu ficou, infelizmente, limitado a essas conquistas materiais. Os vizinhos árabes aceitaram a presença dos judeus naquela região sob força militar. Nem a Declaração de Balfour, nem a partilha decidida pela ONU, nem a proclamação do novo Estado, em 1948, impediram quatro guerras e a permanente beligerância onde as partes envolvidas têm, ao mesmo tempo, razão e desrazão. Em certo sentido, o povo judeu fez uma sofrida, mas bem aproveitada, bolsa de estudos no Ocidente (na Europa e na América). Voltou à antiga Palestina disposto a tomar posse de um chão que era seu. Posse que lhe foi assegurada, depois do Holocausto, pela consciência universal do homem. Os judeus venceram a aridez dos desertos. Não tiveram o mesmo resultado com os vizinhos. Em 74 e durante os anos seguintes, em plena Guerra Fria, cada dia na vida de Israel era uma vitória. Ainda hoje, quando se vai de Tel Aviv para Jerusalém, ao lado das plantações de algodão, que é de maior qualidade do que o produto egípcio, vêem-se as carcaças dos tanques e carros de combate das guerras havidas. São monumentos e, ao mesmo tempo, lições. A palavra mais falada em Israel é "shalom" (paz). Nem por isso a guerra ou a guerrilha deixam de ser a presença maior. Fantasma visível, dia e noite, a luta se abriga em cada casa, em cada cabeça. Luta da qual todos são obrigados a participar. Em Israel não existe a instituição do "soldado desconhecido", que merece túmulo suntuoso e lâmpada votiva. Lá todos os soldados são conhecidos, têm mães que urram de dor a cada morte, têm amigos que clamam por vingança. Os árabes estão na mesma. Daí que apesar do esfriamento da tensão mundial, nas ruas de Jerusalém ou de Tel Aviv, nas sinagogas e mesquitas, com motivos justos ou injustos, a guerra ainda não acabou. Não faltam pretextos para ambos os lados. Texto Anterior | Próximo Texto | Índice |
|
|